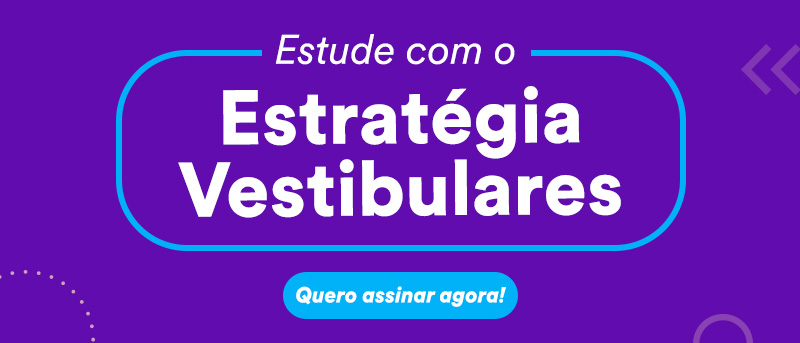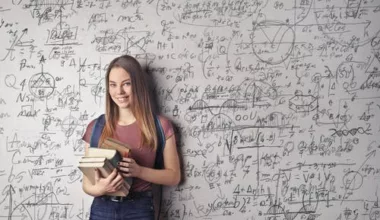O estudo das misturas térmicas é fundamental para compreender como corpos de diferentes temperaturas interagem até atingir o equilíbrio. Esse tema conecta conceitos de calor sensível, calor latente e conservação de energia.
Essas misturas estão presentes em situações cotidianas, como colocar gelo em uma bebida ou misturar líquidos quentes e frios. É possível observar o processo de cada substância até o equilíbrio, com variações de temperatura e mudanças de fase.
Nesse texto, você vai entender o conceito de misturas térmicas, como aplicar a conservação da energia para determinar a temperatura de equilíbrio, quando usar calor sensível ou calor latente e aplicações práticas. Acompanhe abaixo.
Navegue pelo conteúdo
Conceito de misturas térmicas
As misturas térmicas partem do princípio que dois ou mais corpos em sistema isolado, trocam energia na forma de calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico. Eles tendem a igualar temperaturas, de forma que os corpos com maiores temperaturas cedem energia para os de menor temperatura.
O objetivo em processos de mistura térmica é determinar o estado final do sistema quando atinge o equilíbrio térmico. Logo é necessário estabelecer a temperatura de equilíbrio e o estado físico de cada componente (sólido, líquido ou gás).
Sistema térmico isolado e princípio fundamental
Para tratamento ideal, considera-se um sistema isolado, ou seja, sem troca de calor com o ambiente externo. Nessa condição vale a conservação da energia térmica: a soma algébrica de todos os calores trocados dentro do sistema é zero. Escreve-se:
∑Q=0
ou equivalentemente:
Qcedido+Qabsorvido=0
Adota-se a convenção de sinais em que Q>0 quando um corpo absorve calor (temperatura sobe ou ocorre transição endotérmica) e Q<0 quando cede calor.
Calor sensível e calor latente nas misturas
Em uma mistura, cada componente pode passar por trechos sensíveis (variação de temperatura dentro da mesma fase) e por trechos de mudança de fase (fusão, vaporização, entre outros.). As expressões desses conceitos são:
- Calor sensível: Qs=m.c.ΔT (onde ΔT=Tfinal−Tinicial ); e
- Calor latente: QL=m.L (L = calor latente específico para a mudança de fase).
Assim, é essencial identificar para cada componente quais etapas ocorrerão desde a condição inicial até o equilíbrio.
Determinação do estado final
Estratégias práticas que podem ser utilizadas para verificar o estado final das substâncias envolvidas na mistura térmica são:
- Analisar temperaturas iniciais e pontos de mudança de fase de cada substância (Exemplo: 0 °C para fusão do gelo, 100 °C para ebulição da água a 1 atm);
- Hipóteses inteligentes: prever se ocorrerá mudança de fase. Em muitos casos simples (mistura de duas massas de água), nenhum ponto de mudança será atingido e a temperatura final estará entre as iniciais. Já se houver gelo, vapor, ou temperaturas próximas a pontos de mudança, é preciso testar hipóteses;
- Teste de hipóteses (método comum): assumir uma temperatura final candidata (frequentemente um ponto de mudança, como 0 °C). Calcular o calor necessário para levar cada corpo até essa temperatura e, se aplicável, o calor latente para completar a mudança de fase. Comparar o calor total cedido com o calor total absorvido:
- Se a soma algébrica for zero, a hipótese está correta; e
- Se a soma indicar calor excedente de um lado, ajustar a hipótese para temperatura maior ou menor e recalcular.
- Se nenhum patamar for atingido, aplicar diretamente ∑mici (Tf−Ti) = 0 e resolver para Tf. Isso leva à fórmula útil (sem mudança de fase):

Montagem da equação da mistura
Para cada componente, é importante listar as etapas de troca de calor, como aumentar temperatura até ponto de fusão, fundir, aquecer líquido e evaporar, escrevendo seu termo correspondente:
Qs=m.c.ΔT ou QL=mL.
Importante: usar sempre a mesma Tf (a hipótese testada) para calcular ΔT=Tf−Ti nos termos sensíveis, garantindo sinais corretos. Somar todos os Q e igualar a zero.
Estratégia passo a passo para resolver exercícios
- Ler atentamente e identificar massas, temperaturas iniciais, calores específicos c e calores latentes L;
- Determinar pontos de mudança de fase relevantes;
- Prever o estado final provável; se incerto, testar hipóteses (começar por pontos de mudança);
- Listar etapas sensíveis e latentes para cada componente;
- Montar ∑Q=0 substituindo cada Q por m.c.ΔT ou m.L;
- Resolver a equação e verificar coerência da hipótese (se Tf obtida está de acordo com a previsão de fases); e
- Conferir unidades, sinais e ordem de grandeza do resultado.
Tipos de problemas comuns em vestibulares
Os avaliadores sempre repetem alguns padrões nas provas de vestibulares, veja os mais comuns:
- Mistura de líquidos iguais a diferentes temperaturas (caso simples);
- Mistura de líquidos diferentes (usar capacidades térmicas e possíveis calorímetros);
- Sólido + líquido com possível fusão (Ex.: gelo + água);
- Vapor + líquido com possível condensação;
- Problemas que incluem a capacidade térmica do recipiente (calorímetro) ou equivalente em água; e
- Processos multi-etapas envolvendo aquecimento, fusão e vaporização.
Exemplo conceitual:
Para duas massas m1 e m2 da mesma substância sem mudança de fase temos:


Logo:

Esse resultado é útil como referência e pode ser usado como primeiro teste em muitos enunciados.
O calorímetro e a capacidade térmica equivalente
Um calorímetro ideal seria totalmente adiabático, ou seja, não trocaria calor com o ambiente. Na prática, porém, ele sempre troca um pouco de calor. Por isso, sua capacidade térmica (Ccal), ou o equivalente em água (meq), deve ser considerada nos cálculos. Nesses casos, o calor trocado pelo calorímetro é dado por:

Em muitos exercícios, o enunciado já fornece o valor de meq, que é usado no lugar de Ccal.
Erros frequentes e dicas estratégicas
Os erros mais comuns dos estudantes relacionados a misturas térmicas são:
- Omitir patamares de mudança de fase;
- Usar calor específico ou calor latente (c ou L) da fase incorreta;
- Misturar unidades, como gramas (g) com joules por quilograma (J/kg); e
- Ignorar a capacidade térmica do calorímetro.
Algumas dicas práticas que tornam a resolução de exercícios mais segura, organizada e eficiente, especialmente em provas, são:
- Sempre verificar os sinais (+ ou −) ao calcular calor;
- Desenhar um esboço da curva T vs Q para visualizar os patamares e etapas; e
- Testar hipóteses de forma sistemática durante a resolução.
Questão do vestibular sobre mistura térmica
Enem (2013)
Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 °C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 °C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 °C.
Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal?
A) 0,111.
B) 0,125.
C) 0,357.
D) 0,428.
E) 0,833.
Resposta:
A temperatura final do banho é a temperatura de equilíbrio da mistura de água quente com água fria. Já que toda a energia cedida pela água quente é absorvida pela porção de água fria, devido ao fato de o sistema estar termicamente isolado, então podemos escrever a seguinte relação:

Como a temperatura final da mistura, a temperatura de equilíbrio, deve ser de 30°C, e o calor específico é o mesmo para as duas porções de água líquida, então a razão entre as massas de água quente e fria fica:


Assim, para cada uma porção de água quente, inicialmente a 70°C, devemos misturar oito porções de água fria, inicialmente a 25°C, para se obter água a 30°C para o banho.
Alternativa Correta: B
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Nos cursos preparatórios da Coruja, os alunos são treinados para conectar diferentes áreas do conhecimento e aplicar essas informações em simulados e provas.
As aulas são ministradas por professores especialistas, com nossos Livros Digitais Interativos (LDI), além de contar com simulados exclusivos. Clique no banner e comece seus estudos com o Estratégia Vestibulares!