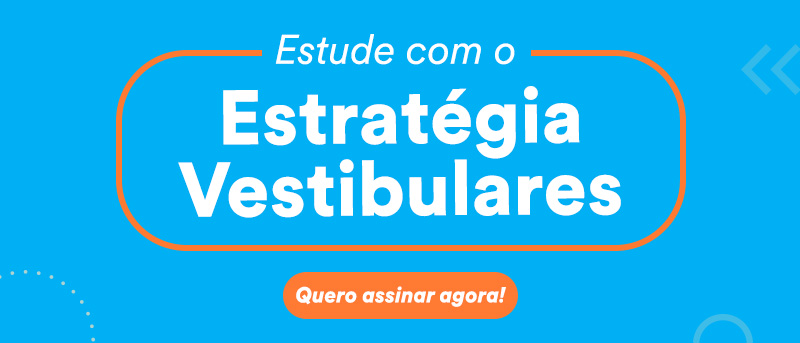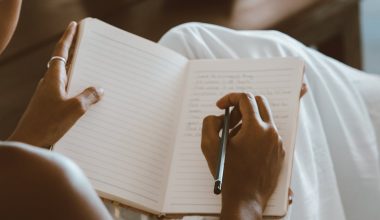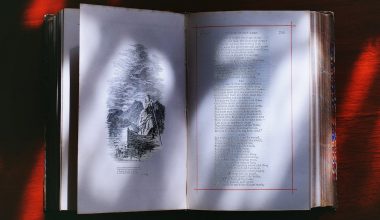Presente em obras clássicas e contemporâneas, a glosa desafia o poeta a desenvolver ao máximo sua engenhosidade. Sua influência na literatura renascentista, barroca e até na cultura popular brasileira, oferece um rico campo de exploração para compreender a evolução da poesia e suas funções artísticas e sociais.
No contexto do vestibular, a glosa pode ser cobrada em provas que avaliam o domínio de estruturas poéticas, análise textual e contextualização histórica.
Pensando nisso, o Estratégia Vestibulares preparou este guia para te ajudar a entender melhor o que é a glosa, sua estrutura e tipos, com exemplos práticos. Confira!
Navegue pelo conteúdo
O que é a glosa?
A glosa é uma forma poética fixa, de origem ibérica (hispânica e portuguesa), que se desenvolve a partir de um mote — uma estrofe ou verso introdutório, geralmente um dístico — que apresenta o tema do poema.
Cada verso do mote é retomado ao final de estrofes subsequentes, que o “glosam”, ou seja, explicam e ampliam suas ideias. O resultado final é um poema que combina criatividade, virtuosismo e sofisticação.
Nesse sentido, o termo “glosa” possui três significados no contexto poético:
- Composição poética: refere-se ao poema como um todo, iniciado pelo mote.
- Verso repetido: o verso do mote que aparece ao final de cada estrofe, concluindo uma ideia principal.
- Estrofes de desenvolvimento: as estrofes que expandem o tema do mote, criando algo mais detalhado, especialmente em formas como cantigas e vilancetes.
Quanto ao tema das glosas, esse é predominantemente amoroso, mas também podem abordar reflexões filosóficas ou desafios poéticos.
Observe este exemplo de glosa amorosa de Camões:
XLV - Glosa a este moto alheio
Mote:
Minha alma, lembrai-vos dela.
Glosa (trecho):
Pois o ver-vos tenho em mais
que mil vidas que me deis,
assi como a que me dais,
meu bem, já que mo negais,
meus olhos, não mos negueis.
[...]
Minha alma, lembrai-vos dela.
Função da glosa
A glosa tem como objetivo principal desenvolver e reinterpretar um mote preexistente, que pode ser inspirado em outro poema, provérbio ou canção. Assim, pode-se afirmar que a função primordial da glosa está em sua capacidade de:
- Desdobrar o sentido do mote, explorando nuances emocionais ou filosóficas.
- Estimular a criatividade, desafiando o poeta a inovar dentro de uma estrutura fixa.
- Demonstrar erudição, exibindo domínio retórico e técnico.
- Expressar ideias complexas, como emoções, críticas sociais ou reflexões filosóficas.
Portanto, especialmente em ambientes acadêmicos e literários, como ocorria nas poesias palacianas, a glosa cumpre a função de valorizar o engenho do poeta e sua capacidade de expressão artística, a partir de uma forma fixa.
Estrutura e tipos de glosa
Glosa tradicional
A estrutura mais comum de glosa apresenta:
- Um mote de quatro ou cinco versos;
- estrofes com 8 a 10 versos que desenvolvem o mote;
- uso da redondilha maior (versos de 7 sílabas métricas) como métrica, ou seja, versos com sete sílabas métricas; e
- rimas regulares.
Essa estrutura pode ser observada no poema “Cantiga sua, partindo-se” de João Roiz de Castelo Branco (séc. XV), contida no Cancioneiro Geral (1516):
Mote:
"Senhora, partem tam tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tam tristes vistes
outros nenhũs por ninguem."
Glosa:
"Tam tristes, tam saudosos,
tam doentes da partida,
tam cansados, tam chorosos,
da morte mais desejosos
cem mil vezes que da vida.
[...]
outros nenhũs por ninguem."
Esse exemplo ilustra o sofrimento amoroso, um tema recorrente na lírica palaciana, a partir do uso de redondilha maior e rimas consonantes. Ademais, observe que o mote apresenta estrutura ABAB, enquanto a glosa utiliza rimas intercaladas, retomando os versos do mote ao final da estrofe.
Outros tipos de glosa
- Glosa em décimas: comum na cultura popular brasileira, especialmente no repentismo nordestino, usa estrofes de 10 versos, frequentemente heptassílabos ou decassílabos, mantendo a repetição do mote; e
- Glosa livre: variações modernas podem flexibilizar a métrica ou a obrigatoriedade de repetir o mote, priorizando a criatividade temática. Esse tipo pode ser adotado por poetas contemporâneos que querem dialogar com outros textos ou autores.
Glosa, vilancete e cantiga: diferenças e semelhanças
A glosa, o vilancete e a cantiga estão unidas por alguns aspectos comuns, como a musicalidade, expressão lírica e diálogo com a tradição, mas são distintas em suas estruturas e propósitos. Confira a seguir:
- Glosa e vilancete: ambas são introduzidas por um mote e refletem a tradição renascentista. Porém, o vilancete desenvolve o mote de forma mais livre e compacta, sem necessariamente incorporar os versos do mote ao final de cada estrofe, como na glosa, a qual exige que cada verso do mote seja retomado; e
- Glosa e cantiga: a glosa tem uma conexão menos direta com as cantigas medievais, mas compartilham o caráter lírico e a possibilidade de musicalização. As cantigas, especialmente as de amigo, utilizam o paralelismo, uma forma de repetição que se assemelha com a reiteração do mote na glosa.
Aplicações da glosa: literatura e música
Apesar de sua forma fixa as glosas transcendem essa característica e, frequentemente, aliam tradição e inovação em diferentes contextos:
Literatura
Na tradição literária, a glosa tem servido para explorar temas, como amor, identidade e cultura, além de homenagear obras do passado e reinterpretar versos conhecidos.
Música
No campo musical, por exemplo, era comum que compositores renascentistas tomassem músicas já conhecidas, como cantos gregorianos, e as desenvolvessem por meio de variações, ornamentações ou inserção de novas vozes. Essa prática resulta em obras originais que mantêm uma relação evidente com a fonte inspiradora.
Cultura popular
As glosas também se manifestam nas tradições populares como uma forma de improvisação poética. Um exemplo notável disso é o repentismo praticado no sertão nordestino, em que dois versos iniciais (mote) servem de base para que o improvisador desenvolva estrofes rimadas, geralmente em redondilha maior, no estilo característico da cantoria de viola.
A glosa na história da literatura
A glosa tem raízes na poesia ibérica, com seu primeiro registro no Cancioneiro Geral de Garcia Resende (1516), uma coletânea de 880 poemas, incluindo glosas palacianas. Nesse contexto, era usada em competições poéticas, servindo tanto para enaltecer as próprias virtudes quanto para diminuir o prestígio do adversário.
Desse modo, quanto maior fosse a engenhosidade do poeta em desenvolver uma glosa coerente e expressiva a partir de um mote proposto, maior era o reconhecimento de sua habilidade e virtuosismo.
Renascimento e Barroco
No Renascimento, a glosa alinhava-se aos ideais de erudição, valorização da tradição clássica e de virtuosismo técnico, sendo usada em poesia e música para reelaborar composições preexistentes.
A glosa também influenciou o movimento literário Barroco. Isso pode ser notado no apreço, na poesia barroca, pelos jogos de palavras e pela expressividade. Além disso, a estrutura fixa da glosa, com a repetição obrigatória dos versos do mote e o desenvolvimento engenhoso do tema, oferecia ao poeta barroco uma moldura ideal para demonstrar sua habilidade técnica e intelectual.
A glosa na contemporaneidade
Na literatura contemporânea, a glosa não se limita à temática amorosa e pode ser empregada não apenas como técnica formal, mas também como ferramenta crítica e expressiva. Além disso, autores atuais podem utilizá-la para confrontar o passado e o presente, subvertendo, por exemplo, formas clássicas.
Como exemplo, leia um trecho da glosa “Velha rede” do poeta contemporâneo Paulo Camelo, cujo tema central é a saudade:
“(...)
Eu deixei minha rede lá na sala
e parti com vontade de voltar.
Hoje eu vivo saudoso, a meditar
e, se penso na rede, o peito cala.
Eu deixei minha rede lá na sala
e parti com vontade de voltar.
Outra rede me embala em frente ao mar
e do mar ouço um som que acaricia.
Esse mar me roubou, porém, um dia,
o aconchego do lar, o som da rede.
Essa água não mata a minha sede
e a saudade feroz não alivia.
(...)”
No poema acima, observe que o mote é um dístico que se apresenta como refrão ou fechamento da estrofe. Ademais, o poema é organizado em estrofes com dez versos (décima), forma tradicional em glosas ibéricas e amplamente difundida na cultura popular brasileira.
Quanto à métrica, os versos são, predominantemente, decassílabos e heptassílabos. Embora haja certa variação rítmica ao longo do poema, a musicalidade é cuidadosamente preservada, favorecendo sua declamação ou execução cantada.
Logo, o percurso histórico da glosa demonstra como uma estrutura tradicional pode ser adaptada a novos contextos estéticos, culturais e temáticos.
+ Veja também: Humanismo na literatura: o que foi, escola literária, autores e mais
Literatura contemporânea: o que é, características e tendências
Estude com o Estratégia!
Gostou desse conteúdo? Então prepare-se para ir além com o Estratégia Vestibulares! Descubra uma plataforma que te oferece uma preparação completa, personalizada e eficiente para o vestibular.
Estude no seu ritmo, no formato que preferir (videoaulas, resumos, simulados e questões inéditas) e de onde estiver. Clique no banner e comece a conquistar sua vaga na universidade!