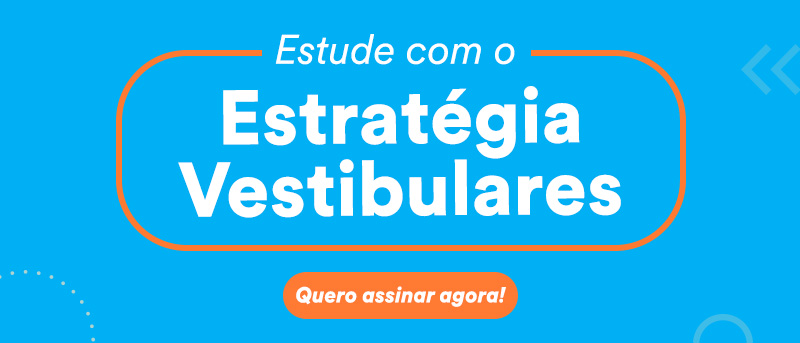O sexteto é uma estrutura poética composta por seis versos que, juntos, formam uma unidade de sentido. Pode apresentar diferentes esquemas de rima e métricas, sendo utilizado nos mais variados estilos literários, da poesia clássica à contemporânea.
O estudo do sexteto é importante, uma vez que amplia a compreensão sobre a construção formal dos poemas e os recursos expressivos utilizados pelos autores. Essa estrutura aparece tanto em composições autônomas quanto como parte de poemas maiores, como os sonetos, sendo uma ferramenta relevante para a análise literária.
Pensando nisso, a Coruja preparou este guia para te ajudar a entender melhor o que é o sexteto, suas características principais e como ele se manifesta na poesia. Confira!
Navegue pelo conteúdo
Sexteto: o que é?
O sexteto é, basicamente, uma estrofe composta por seis versos, formando uma unidade rítmica e de sentido dentro do poema. Embora não tão frequente quanto quartetos ou tercetos, o sexteto é uma forma importante dentro da tradição poética, especialmente em poemas mais longos.
Sua versatilidade possibilita o uso de diferentes esquemas de rima (como AABCCB, ABABCC, ou mesmo versos livres, muito comuns no período modernista) e variações métricas, o que oferece ao poeta maior liberdade de expressão e experimentação.
Por sua estrutura intermediária — nem tão breve quanto um dístico, nem tão extensa quanto uma oitava — o sexteto ocupa um espaço de equilíbrio, permitindo ao escritor desenvolver ideias com mais profundidade sem comprometer, no entanto, a concisão e a musicalidade.
O sexteto na história da literatura
Ao longo da história da literatura, o sexteto aparece como uma forma poética versátil, que se adapta aos diferentes estilos, escolas e movimentos literários.
Na Antiguidade clássica, ainda que a noção de estrofe regular com seis versos não fosse sistematizada como nas formas modernas, é possível perceber a presença de agrupamentos semelhantes em hinos, odes e composições líricas mais extensas, com divisão métrica clara e repetição de padrões.
Durante o Classicismo e o Renascimento, com a retomada das formas fixas e a valorização da métrica e da harmonia, o sexteto ganha espaço especialmente nos sonetos de origem italiana.
Nessa tradição, os dois tercetos finais podem ser lidos como um sexteto coeso que desenvolve, aprofunda ou contrapõe a ideia apresentada nos quartetos iniciais.
Poetas como Petrarca e Camões utilizaram essa divisão para construir argumentos bem concatenados e sensibilidade ao longo dos poemas, como é possível observar neste trecho retirado do poema “Busque Amor novas artes, novo engenho”, de Luís de Camões:
Busque Amor novas artes, novo engenho,
Para matar-me, e novas esquivanças;
Que não pode tirar-me as esperanças,
Que mal me tirará o que eu não tenho.
Olhos me roubam vossos, e o meu empenho
De defender-me, não as esperanças.
O sexteto é empregado aqui para explorar o paradoxo entre esperança e desilusão amorosa.
No Barroco, com sua busca pelo contraste e pela complexidade formal, o sexteto aparece com maior liberdade, incorporando jogos de linguagem, antíteses e variações rítmicas.
Já no Romantismo e nas escolas subsequentes, o uso do sexteto passou a se tornar ainda mais livre, acompanhando o afastamento das formas rígidas e a valorização da subjetividade.
Poetas românticos, simbolistas e modernistas empregaram sextetos em composições líricas e reflexivas, muitas vezes sem rimas fixas, mas com grande atenção à musicalidade e à construção de imagens.
Na poesia contemporânea, o sexteto continua presente. Ele aparece como unidade estrutural em estrofes organizadas por ritmo, pausa ou sentido, mesmo em poemas visuais, concretistas (a exemplo dos poemas de Haroldo de Campos) ou livres.
Análise e interpretação de sextetos
A interpretação de um sexteto exige atenção à forma e ao conteúdo. Para analisar essa estrutura poética, é importante sempre ficar atento à métrica, ao ritmo, à rima e às figuras de linguagem, bem como ao contexto em que a obra está inserida.
Veja um exemplo retirado do poema “Meu destino”, de Cora Coralina:
Nas palmas de tuas mãos
leio as linhas da minha vida.
Linhas cruzadas, sinuosas,
interferindo no meu destino.
Te amo por que tudo se entrelaça.
E toda a minha vida está em ti.
Vamos analisar alguns aspectos desse trecho:
Rima: o poema não segue um esquema fixo de rimas, o que é comum na poesia moderna, mas mantém uma sonoridade suave e fluida, reforçada por repetições e paralelismos.
Métrica: os versos são livres e variam em extensão, característica marcante do estilo da escritora, que prioriza a naturalidade da fala.
Ritmo: o ritmo é marcado por pausas reflexivas e pela musicalidade das palavras, criando um clima de introspecção e delicadeza.
Figuras de linguagem: há metáfora (as “linhas da vida” nas mãos do outro) e personificação do destino, além de uma forte carga simbólica na ideia de entrelaçamento dos destinos. O eu lírico revela amor e entrega, sugerindo que sua identidade se constrói na relação com o outro.
Questão de vestibular sobre o assunto
UEMA (2015)
A obra Alguma poesia, publicada em 1930, marca a estreia de um dos mais emblemáticos escritores da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. O poema que segue integra a referida obra e serve como base para a questão proposta.
Também já fui brasileiro
Eu também já fui brasileiro
moreno como vocês.
Ponteei viola, guiei forde
e aprendi nas mesas dos bares
que o nacionalismo é uma virtude.
Mas há uma hora em que os bares se fecham
e todas as virtudes se negam.
Eu também já fui poeta.
Bastava olhar para uma mulher,
pensava logo nas estrelas
e outros substantivos celestes.
Mas eram tantas, o céu tamanho,
minha poesia perturbou-se.
Eu também já tive meu ritmo.
Fazia isto, dizia aquilo.
E meus amigos me queriam,
meus inimigos me odiavam.
Eu irônico deslizava
satisfeito de ter meu ritmo.
Mas acabei confundindo tudo.
Hoje não deslizo mais não,
não sou irônico mais não,
não tenho ritmo mais não.
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013).
A construção poética de “Também já fui brasileiro” reflete o(a)
A) negação dos valores proclamados pela arte moderna no Brasil.
B) violação dos padrões poéticos estabelecidos no Brasil até o Modernismo.
C) distanciamento da poesia brasileira da arte poética dos ritmos e das virtudes.
D) retomada da rítmica clássica no ato de construção proposta pelo Romantismo.
E) rompimento com as ideias nacionalistas, procurando uma arte poética antibrasileira.
Resposta:
Em todas as estrofes, Drummond demonstra o rompimento com alguma forma de pensamento clássico. Note que há a negação ao nacionalismo cego, típico do Romantismo; o rompimento com a noção lírico-amorosa, típica do Romantismo e de alguns momentos do Parnasianismo (com Olavo Bilac e sua visão filosófica do amor); e com o fazer poético inspirado em símbolos e noções preestabelecidas pela sociedade.
Alternativa correta: B
Estude para as provas com a Coruja
Prepare-se para o vestibular de forma estratégica, personalizada e sem sair de casa. Com a plataforma interativa do Estratégia Vestibulares, você cria e adapta cronogramas de acordo com suas necessidades.
Estude no seu ritmo e com os materiais que preferir: mapas mentais, nossos Livros Digitais Interativos (LDIs), videoaulas, ou ainda nosso banco de questões exclusivo, com milhares de questões corrigidas em vídeo, para potencializar ainda mais a retenção do conteúdo aprendido. Clique no banner e inicie sua preparação agora mesmo!